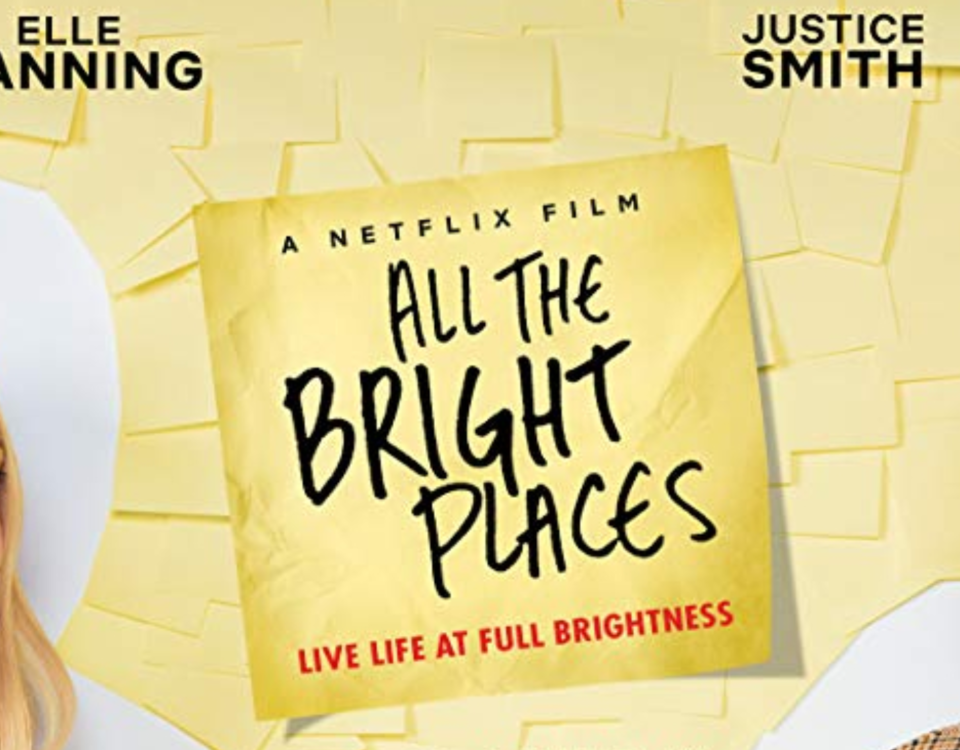- Centro de Estudos Avançados de Psicologia
- 0800.030.5050
- ciclo@cicloceap.com.br
As horas – Filme
Pesquisa alerta sobre acesso de crianças a temas impróprios na web
11 de setembro de 2018Indicação de Filme
24 de outubro de 2018O que não é frio, nem quente, o que tanto faz como tanto fez, não sabe ser nem estar, nem convence, nem inspira. Esvazia-se na própria apatia. Infelizmente, tudo o que é habitual tende a ser jogado para o limbo da insignificância. E por lá jaz, anestésico e ausente. É como se tudo fosse programado: os momentos, as tarefas, os encontros, os sentimentos, as palavras. Com o tempo, deixamos que percam o valor. Com o tempo, tudo o que nos resta são as horas.
Qual o sentido da vida? Todos nós já perguntamos isso. Definir o que é vida e qual seu sentido pode ser muito relativo, visto que tal resposta depende de vários fatores. Mas três personagens (as quais fazem parte do grupo de personagens mais interessantes do cinema, em minha opinião) possuem um mesmo ponto de vista em relação ao o que é, ou deveria ser, a vida. Deveria ser tudo o que não é pressuposto, tudo o que não encerra o instinto, tudo o que não é fixo nem duradouro. Deveria ser a pluralidade, um universo caótico de possibilidades, a vida.
O filme “As Horas” (“The Hours”, 2002), de Stephen Daldry – baseado no livro homônimo de Michael Cunningham, de 1998, com o qual o autor levou o prêmio Pulitzer para ficção – apresenta três histórias interligadas por um conflito em comum. O drama literário foi construído a partir dos diários da escritora britânica Virginia Woolf, entre os anos de 1920 e 1940, e acrescenta à particular história da escritora mais outras duas, com essas mesmas questões existenciais, porém, cada qual em tempos diferentes.

Observamos uma Virginia que tenta resgatar as horas do seu dia, acrescentando significado a elas. O mesmo se passa com as outras duas protagonistas: Laura Brown e Clarissa Vaughan. Todas vivem sob um paradoxo: reacender o significado das coisas cotidianas, das próprias horas. Elas estão à procura de uma saída, uma rota para escapar do apego com o qual coexistem em relação a um cotidiano que não mais lhe apetece. Estão em fuga da dependência do outro. Estão em fuga do amor do outro. Procuram a liberdade.
Essas três mulheres vivem em prol de terceiros, de outras causas, de outras horas que não as suas. Seja por medo de enfrentar a própria realidade, seja por incapacidade de viver independente da atenção de outros. Basicamente, podemos enxergá-las como a autora (Virginia), a leitora (Laura) e a personagem (Clarissa), que lutam contra as trivialidades cotidianas, como simples hábitos – os quais, na visão particular de cada uma, têm o poder de esvaziar a vida em todos os seus sentidos. Ora, as três personagens amam a vida, e por isso a vontade de transcender, de serem mais do que eram, de alcançar todas as possibilidades que o espírito suporte. Mas acreditam, sobretudo, na morte. Pois sabem que a vida é apenas valorizada somente e por causa da morte. Sabem que tudo ganha valor quando há o que se perder. “Por que alguém tem que morrer?” – pergunta Leonard, marido de Virginia. “Para o outro valorizar a vida” – responde.
Elas querem absorver do dia que corre cada pequena percepção para rebentar na extraordinária sensação de sentir a vida pulsando dentro do peito. Sentir toda a gravidade das coisas dentro de si. Obviamente, são mulheres solitárias por causa da intensidade com a qual encaram a vida, mas também são mulheres frustradas, por terem perdido suas convicções em detrimento das regras da sociedade ou do zelo ao próximo. São mulheres egoístas, e somente atentam ao próximo para fugir delas mesmas, fazendo do outro o seu cristo particular.
A história de “As Horas” revela-nos que a vida nada mais é do que a ausência das horas, dessas mesmas horas que contamos todos os dias, já anestesiados, assim como as personagens. E revela-nos mais: temos e somos um pouco de cada uma das personagens, nosso desejo de transcender foi ofuscado pela sufocante e temperada zona de conforto, as trivialidades do cotidiano.
Fonte: @obvious